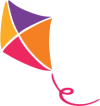A transformação da política na favela: desconstruindo a “ausência do Estado” (artigo)
Artigo publicado por Marcella Carvalho de Araujo Silva na Revista Antopolítica. Gentilmente cedido pela autora para replicação e divulgação na Wikifavelas.
Resumo
Este trabalho problematiza a ideia da “ausência do Estado” em favelas cariocas. O principal problema sociológico analisado são os dilemas dos agentes comunitários, moradores de favela contratados por programas de urbanização: “enquanto moradores” eles “sofrem” com as “mentiras” contadas por eles mesmos em sua atuação “enquanto Estado”. Traçando linhas de continuidades e rupturas entre as associações de moradores e as organizações não governamentais para as quais os agentes comunitários trabalham este artigo tem três objetivos: apresentar uma interpretação alternativa ao discurso do “vazio institucional” nas favelas, atribuído à crise de legitimidade que associações de moradores enfrentam desde o início da articulação do tráfico de drogas; dissociar o problema da segurança pública das mudanças na atuação política; e demonstrar o que venho chamando de a transformação da política.
Introdução
Com a consolidação do problema da segurança pública no Rio de Janeiro, nos anos 1990, a pesquisa sobre política na favela foi subsumida pela temática da violência urbana. Desde o início da redemocratização do país, o crescimento da criminalidade urbana passou a desafiar tanto a compreensão sobre o processo de construção da nossa cidadania, como o estabelecimento de formas de controle democrático do crime (ZALUAR, 1999). Da parte de sociólogos e antropólogos, houve um deslocamento paulatino do foco da atenção dos movimentos sociais à criminalidade violenta, com o intuito de compreender se a pobreza, as desigualdades sociais e as instituições políticas desempenhavam algum papel no aumento da violência urbana (VALLADARES, 2005, p. 236).1 Diante desse novo problema, as mudanças nas formas de organização e ação política nas favelas passaram a ser entendidas como efeitos da formação do mercado de drogas (PERALVA, 2000).
Entre os atores da política na favela, também é amplamente compartilhada a relação entre a ação de traficantes armados e as mudanças nos modos de se fazer política. Segundo presidentes e membros de diretorias de associações de moradores, a perda de protagonismo político de suas instituições teria uma dupla face: por um lado elas se veriam acometidas por uma “crise de legitimidade”, atribuída à formação do tráfico de drogas; e por outro elas passariam a disputar politicamente com organizações não governamentais (SILVA & ROCHA, 2008). Coordenadores de Ongs, por sua vez, também justificam sua atuação em favelas com o problema da segurança pública. Na opinião de muitos deles elas acabam “tomando o lugar da associação de moradores”, pois as “ligações” mantidas entre estas e traficantes de drogas minariam sua credibilidade junto a moradores e órgãos governamentais.
Para aqueles interessados em compreender o crescimento de organizações não governamentais em favelas, a “crise das associações de moradores” tornou-se o principal problema a ser desvendado. Surgiram ao menos duas interpretações da perda de protagonismo político dessas instituições. Uma perspectiva mais institucionalista foca na crise de legitimidade e defende a leitura de um paradoxo entre a modernização sociocultural do país, que disseminou valores individualistas e a incapacidade das instituições políticas em manter a ordem pública (PERALVA, 2000). Tanto a polícia estaria envolvida em práticas criminais, como as instituições representativas passariam a ser “reféns” dos desmandos de traficantes. Outra perspectiva foca na crise de representatividade e argumenta em termos de transformações gerais do capitalismo, que tanto criaria zonas de indeterminação entre o trabalho social e a cultura (RIZEK, 2011), como implicaria um melhor ajustamento de Ongs à atual lógica da governança por projetos (ROCHA, 2013).
Mais do que uma transição entre mediadores políticos, houve um deslocamento da lógica da representação política à lógica das parcerias. As principais estratégias de inclusão empregadas por projetos sociais passaram a ser atividades culturais de dança, música e mais recentemente audiovisual, como tentativas de valorização da memória e da história de luta e em alguns casos, de uma suposta “cultura da favela”.2 “Favela não é só violência” e “Tem que mostrar o lado bom da favela” são alguns comentários que, por bem denotarem o peso da vida sob cerco dos moradores,3 expressam também a tensão de uma vida política constrangida e silenciada4 pelo tráfico. Devidamente articuladas ao imaginário social da violência e da juventude como seu principal público-alvo essa estratégia se tornou recurso político altamente eficaz. Assim, uma geração de “jovens de projeto” nasceu em oposição aos “meninos do tráfico”, tornando-se dois polos de classificação de suma importância na organização interna das favelas.
Contudo, mais do que uma substituição de uma lógica por outra este artigo pretende demonstrar a transformação da lógica da representação em uma lógica de parcerias para governança urbana. Um primeiro passo, nesse sentido, é dissociar o problema da segurança pública do que venho chamando de transformação da política na favela.
O desafio de compreender a formação de novos e mais complexos mercados informais (e ilegais) foi encarado pela tese da acumulação social da violência, como um processo de historicidade própria (MISSE, 1999). Mais especificamente, as “ligações perigosas” e as trocas de “mercadorias políticas”5 entre traficantes e policiais conseguiram explicitar o mecanismo por meio do qual se reproduz a contradição entre as políticas de criminalização e o que Misse chama de “avaliação estratégica” de traficantes e policiais quanto às possibilidades de minorar os efeitos da própria criminalização (1997; 1999).
Foge ao escopo da tese da acumulação social da violência, contudo, a investigação sobre a relação entre esse processo e a política na favela. Nesse sentido, o segundo passo dado por este artigo é investigar, por meio de uma etnografia densa, o processo político específico que levou à transição entre as associações de moradores e as organizações não governamentais.
De modo a defender a ideia de que há uma série de linhas de continuidade entre essas instituições este texto apresenta como seu principal fio condutor a atuação de agentes comunitários, moradores de favelas contratados por programas governamentais. A história desse novo personagem da política na favela, nascido em 1979, suas lutas próprias e os dilemas de sua atuação, nos permitirão compreender o processo político particular que se desenrolou em paralelo à consolidação do problema da segurança pública. Nesse sentido, o principal problema deste artigo será a análise do dilema diário encarado por agentes comunitários. Nas próprias palavras desses atores, “enquanto moradores” eles “sofrem” com as “mentiras” que eles mesmos contam em sua atuação “enquanto Estado”.
Esse dilema encerra a organização ativa e produtiva de formas de controle social que garantem a manutenção das rotinas nas favelas dominadas por tráfico de drogas, superando a perspectiva da pura coerção de traficantes e policiais e do culturalismo problemático, de um controle social não mediatizado, a que pode chegar o discurso de segmentos do terceiro setor. Seu ponto de partida será a provocação de Pierre Clastres de que é crucial investigar o “sentido pelo qual, talvez misteriosamente, alguma coisa existe na ausência (do Estado)” (CLASTRES, 1978, p. 21).
A camisa do Estado
Meu trabalho de campo na favela do Borel foi iniciado no princípio de 2009, um ano antes da ocupação da Unidade de Polícia Pacificadora. Contudo, foi a instalação de uma UPP e a consequente inflexão nas forças locais que me permitiram tomar conhecimento do papel ativo do agente comunitário na política na favela. Com a ocupação da polícia militar eu fui inserida pelas agentes comunitárias do PAC Favelas – Programa de Aceleração do Crescimento, que eu acompanhava, nas reuniões comunitárias do que veio a se consolidar como a Rede Social Borel, uma entidade horizontal, não representativa, formada por organizações não governamentais, igrejas e grupos locais.
As reuniões promovidas pela Rede Social tiveram como objetivo “fazer uma crítica qualificada ao processo de pacificação” e teve como primeira motivação contrapor o discurso do “vazio institucional” veiculado pelo BOPE – Batalhão de Operações Especiais, na primeira reunião dos agentes da pacificação com os moradores. A primeira estratégia da Rede foi recuperar a memória de luta local, mantida em arquivos e documentos por um dos vários grupos locais, os Condutores de Memória.
Como a associação de moradores era muito mal vista pelos policiais, que já atribuíam a ela antecipadamente uma falta de legitimidade, a principal forma de legitimação das “lideranças comunitárias” da Rede Social dizia respeito à construção de um discurso de “luta”, a partir de sua atuação em projetos sociais. Narrativas e mais narrativas se desenrolavam sobre as dificuldades de prestação de serviços em meio aos tiroteiros e à falta de verba. Diante de um interlocutor que pleiteava ocupar por si mesmo o “vazio institucional” deixado pela “crise de legitimidade da associação”, as organizações do terceiro setor entravam na disputa pela mediação política reivindicando ocupar o espaço deixado em aberto pela “ausência do Estado”.
Assim, as reuniões comunitárias organizadas pela polícia militar e aquelas organizadas pela Rede Social Borel podem ser entendidas como um palco de disputa entre dois discursos sobre a ausência do Estado, que dizem respeito a duas críticas (típico-ideais) do Estado totalmente opostas.
No discurso da polícia, a ausência do Estado seria consequência da violência da criminalidade local. Os traficantes, sujeitos sociais da violência, são aqui representados como um “poder paralelo”, constituído por indivíduos dotados de uma violência inata,7 que se insurgiriam contra o monopólio do uso da violência do Estado. Nessa perspectiva, a existência de grupos armados é lida principalmente pela lente do atentado contra a soberania do Estado, o que justificaria toda sorte de investimentos para a “retomada dos territórios” controlados por traficantes e a “guerra às drogas”. Os paladinos da metáfora da guerra que ainda opera na lógica da pacificação (Leite, 2012) entendem que a violência dos “bandidos” levaria à “ausência do Estado”, que criaria terreno para a reprodução da criminalidade violenta. Assim, a violência geraria a própria violência.
Por outro lado entre as lideranças comunitárias operava outro discurso crítico da “ausência do Estado”. Em diversas entrevistas que realizei, nos prédios dos grupos locais, muitas delas empregavam um discurso que criticava a incapacidade de o Estado prover a inclusão social de trabalhadores urbanos. Ainda que haja uma necessidade constante de limpeza moral, opondo “moradores”/”trabalhadores” aos “bandidos”/”vagabundos”, muitas vezes a adesão ao mundo do crime é explicada como mais uma forma de “viração” na informalidade, uma estratégia de sobrevivência ou uma opção para a realização de desejos de consumo. Não raro ouvi referências às atividades do tráfico de drogas como “o trabalho deles”.
Apesar de ocupar o lado oposto à perspectiva de “guerra às drogas”, no espectro político essa crítica da exclusão social não consegue desfazer o caráter fantasmagórico da violência.8 Aqui não é a violência que gera violência, mas o Estado ausente que levaria à opção pela criminalidade, que, por sua vez, dificultaria a atuação estatal junto às classes populares e ao consequente aumento da criminalidade urbana. Essa perspectiva não compreende o engajamento de uma reduzida parcela das classes populares na vida no crime (por que alguns virariam “trabalhadores” e outros “bandidos”?) e, perversamente, acaba por reforçar a associação entre pobreza e criminalidade feita pelas estatísticas oficiais, que, como sabemos, além de muito deficitárias, dizem mais sobre o modo de funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro (MISSE, 1995).
Essas perspectivas divergentes sobre o Estado, construídas a partir da elaboração de representações sobre a criminalidade, apresentam também leituras diferentes sobre “a crise da associação de moradores”. No discurso da polícia, a expansão de uma determinada criminalidade violenta nas favelas não apenas se espraiaria por sobre todas as atividades locais, como se tornaria o ponto focal da vida cotidiana: a economia local dependeria do mercado das drogas e as associações de moradores teriam sido colonizadas pelos traficantes e extirpadas de seu caráter representativo. A formação de um mercado de drogas criaria, assim, uma oposição e entre a “comunidade” e a “bandidagem”. O “vazio institucional” deixado pelas associações de moradores, para a polícia, deveria ser ocupado pelo Comando da UPP, para que houvesse um resgate da mediação política e os investimentos públicos pudessem ser realizados.
Entre os membros da Rede Social, de modo a disputar a mediação política com o comandante da UPP, foi preciso qualificar a crítica da exclusão social contra a da guerra às drogas. Ainda que nas negociações por diversos projetos e nas confrontações diárias contra a precariedade de serviços, as organizações não governamentais corroborem o discurso de um “vazio institucional” deixado pela crise das associações de moradores e ocupado por elas, a denúncia da ausência do Estado em meio ao processo de pacificação, acabava por destituir os moradores de favelas de agência política.
Por isso, nas reuniões comunitárias, o discurso de crítica à ausência do Estado das lideranças da Rede Social sofreu uma importante metamorfose. O uso da memória de luta como instrumento político me sinalizou alguns deslocamentos temporais nas falas de algumas lideranças, projetando-as em meio às reconfigurações políticas da pacificação, como personagens de proeminência “desde sempre” na história política local. Se antes da ocupação policial, a “ausência do Estado” era parte fundamental do discurso da violência urbana, com a pacificação, as novas lideranças comunitárias passaram a destacar sua história de “luta” e o desenvolvimento de diversos projetos sociais em meio à atuação do tráfico de drogas. Assim elas passavam a operar uma crítica importante à problemática oposição entre a “comunidade” e os “bandidos”, reivindicando agência política, a despeito da vida sob cerco.
Acompanhei as reuniões comunitárias da Rede Social Borel e, sempre que possível, também aquelas convocadas pelo Comandante da UPP entre 2010 e 2013. Foi nesses espaços que me deparei com situações que explicitavam o mecanismo que permite o emprego desses dois discursos da ausência do Estado. Fora das reuniões, desempenhando seus papéis como lideranças elas empregavam o discurso de tomada do lugar da associação de moradores, que justifica os projetos sociais que realizam. Nas reuniões comunitárias, por outro lado elas criticavam o discurso do vazio institucional, oscilando entre os papéis como liderança e como agente comunitário. Esse último papel é crucial, pois é por serem agentes comunitárias que essas lideranças podem afirmar a atuação em meio aos tiroteios, antes da pacificação.
Uma reunião preliminar de entrada do programa UPP Social explicita com clareza os jogos de papéis da atual política na favela. Em um levantamento dos grupos existentes no território da UPP Borel (que comporta além da favela que lhe dá nome, a Chácara do Céu, a Casa Branca, o Morro do Cruz, Catrambi, Indiana e Bananal), realizado pela equipe de Gestão Territorial da UPP Social, na conversa com a gestora, Maria apresentou-se como “liderança comunitária” vinculada a um grupo local; manifestou compreensão acerca das dificuldades de ordem burocrática para implantação de programas sociais em favelas, graças ao seu lugar como “agente comunitária”; e expressou, como “moradora”, seu descontentamento em relação à demora e à precariedade que acompanham a maioria deles. Ou seja em uma mesma conversa, com um único interlocutor – sendo ele o “Estado” –, Maria teve a habilidade de mobilizar os três papéis que desempenha na política de sua favela.
Outra reunião, de junho de 2011, na semana em que a pacificação completava um ano, permite ir além e compreender os mecanismos de acionamento desses papéis. Nessa reunião, realizada no salão da capela do Morro do Cruz estavam presentes algumas dezenas de moradores e representantes de órgãos públicos. Ela transcorreu com um debate acalorado até que uma fala específica chamou minha atenção: João,9 ex-presidente da associação de moradores do Borel, vestido com seu uniforme de obras, com o microfone na mão, dirigiu-se ao engenheiro da CEDAE e cobrou respostas mais imediatas ao problema de falta de água que muitos moradores vinham enfrentando, havia algumas semanas.
Surpresa por aquele funcionário do Estado direcionar-se a outro funcionário do Estado, seu superior, cobrando respostas ao problema que enfrentava como morador, observei com maior cuidado como se apresentavam os demais participantes da reunião. Surpreendi-me ao perceber que a esmagadora maioria dos presentes vestia uniformes de agentes comunitários10 de algum programa social ou era “liderança” ligada a alguma organização não governamental ou grupo local. A associação de moradores estava presente apenas em memória, remetida pela figura de João, já em novo cargo.
Além da inquietação frente ao elevado número de organizações não governamentais e à ausência da associação de moradores em reunião tão importante para a discussão de questões historicamente relacionadas à sua atuação política, chamou minha atenção o fato de os moradores estarem literalmente vestindo a camisa do Estado.
A trajetória de João, que eu já conhecia, me sinalizou que poderia haver uma conjugação feita de forma complementar entre três papéis da atual política na favela. Ele havia sido presidente da associação de moradores por dois mandatos, ao fim dos quais assumiu a diretoria executiva do Instituto da Cidadania do G.R.E.S Unidos da Tijuca, tendo sob sua responsabilidade o curso de informática oferecido pelo convênio com a Faetec – Fundação de Apoio à Escola Técnica. Após deixar a diretoria da ONG, João voltou a ocupar o cargo de agente comunitário, dessa vez da CEDAE, posto que já havia ocupado como membro do Mutirão de Reflorestamento do programa Favela Bairro.
Por ter sido presidente da associação de moradores durante a fase final de realização das obras desse programa de urbanização, “mesmo afastado”, João se orgulhava de ter mantido o envolvimento com as obras da sua comunidade. Conforme me relatou ele era constantemente chamado por Raquel, presidente da associação de moradores do Borel, para fazer a mediação entre engenheiros e agentes de obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. A interpretação que me deu do papel desempenhado pela associação de moradores em sua trajetória, relacionava a experiência como presidente a um acúmulo de “conhecimento”.
Tudo isso através da associação de moradores, conhecimento, aquela coisa toda. Eu costumo dizer que a associação não te dá nada, você não tem que chegar “ah porque eu vou ganhar dinheiro”. A associação não tem dinheiro, mas você faz conhecimento, você adquire conhecimento. Porque tudo hoje que eu sei, a associação de moradores foi assim uma escola, uma faculdade, principalmente na parte de relacionamento, de mediação de conflitos, de relacionamento com as pessoas. Você aprende muita coisa. [...] Contato tanto interno quanto externo.
A transição entre a associação de moradores e uma organização não governamental não foi, portanto, fortuita. Terminado seu mandato como presidente ele pôde mobilizar os contatos acumulados para a obtenção de novos cargos, como o de diretor executivo da ONG mantida pela Unidos da Tijuca, coordenando projetos sociais proeminentes.
Contudo, ainda que a narrativa de João aponte para a centralidade da associação de moradores na formação de “lideranças comunitárias”, como um importante estágio na formação de carreiras políticas, o terceiro papel de sua trajetória sinaliza a existência de outros mecanismos da política na favela.
Em muitas negociações entre técnicos de programas sociais e os moradores do Borel, não raro eu os vi “vestir a camisa do Estado”. Muitas e muitas vezes eu presenciei situações em que os agentes comunitários em atuação “enquanto Estado”, como comumente se referem ao seu trabalho, se valeram de suas identidades “enquanto moradores” e se colocaram, diante de outros moradores, como “pessoas que também estavam sofrendo com os problemas das obras”, de modo a driblar sua hostilidade. E também já participei de reuniões em que os agentes comunitários “enquanto Estado” prestaram contas nas associações de moradores. Nessa reunião acima citada, os agentes comunitários mobilizaram sua identidade de “moradores” para reclamar de problemas das obras e de sua identidade de “lideranças comunitárias” para cobrar do “Estado” soluções aos problemas. De forma então inesperada para mim, me dei conta de que eles participavam ativamente das negociações políticas em torno das obras de urbanização – que até então, a meu ver eram atribuição da associação de moradores.
Na mesma reunião, dois novos projetos, os Territórios da Paz e o Protejo, ambos do governo federal, financiados pelo PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, foram apresentados aos moradores do Borel. Os representantes da SEASDH – Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, responsável pela realização desses projetos no estado do Rio, propuseram “parcerias” em que as organizações da favela cederiam espaço aos projetos e o poder público entraria com a verba.
Ao cabo da reunião, após um imediato rebuliço de insatisfação por parte dos moradores, críticos a esse modelo de “parceria”, que consideram “abusivo” e “exploratório”, alguns deles vestiram suas camisas oficiais e, desempenhando o papel de agentes comunitários, fizeram a mediação entre os representantes dos programas e as “lideranças comunitárias” ligadas a alguma organização não governamental, igreja ou grupo local. Em alguns casos, os próprios agentes comunitários, apesar da identidade de “Estado” transmitida pela camisa oficial eram as “lideranças comunitárias”.
Foi assim que Maria procedeu. Ao final da reunião, juntei-me a ela, moradora, agente comunitária, liderança comunitária e também universitária e a vi desempenhar o papel de representante de um grupo local. Ainda ressoava a fala de Simone, companheira de Maria no grupo, manifestando em alto e bom som seu descontentamento em relação à “parceria” proposta pelo representante do programa social Protejo. Simone havia falado que achava um absurdo o Estado propor que projetos sociais fossem realizados nos espaços das organizações da favela, sem qualquer ajuda de custo para pagamento de aluguel, luz ou água. “Como se entrassem na nossa casa e depois perguntassem se a gente quer ou não”, na opinião dela. Após a reunião, ainda vestindo sua camisa do Estado, Maria mediou contatos entre Amélia dos Territórios da Paz e Téo da UPP Social, que então começava e representantes de organizações locais entre as quais a dela própria. Só então me dei conta de que, na ausência da associação de moradores, a mediação política para implantação de projetos sociais ficava a cargo dos agentes comunitários.
Esse episódio, além de apresentar um encadeamento entre a atuação de associações de moradores, agentes comunitários e organizações não governamentais evidencia as operações práticas da lógica dos projetos para governança urbana. Ainda que não seja possível dizer que as associações de moradores foram completamente solapadas pelas organizações não governamentais – pois elas continuam exercendo uma função importante de mediação política e formação de lideranças comunitárias –, fica evidente que a política na favela apresenta uma nova configuração e é operada por novos atores.
Para ter acesso ao texto na íntegra, clique aqui.
Teste semântico
- Eixo de análise: Associativismo e Memória
- Categoria temática: Associativismo e Movimentos Sociais