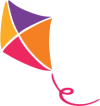O controle do crime violento no Rio de Janeiro (artigo)
'Por Luiz Antonio Machado da Silva[1]
'''Publicado no Le Monde Diplomatique, em fevereiro de 2013
Nos idos de 1969, a ditadura militar, por vários motivos − um dos quais combater os assaltos a banco realizados por grupos de esquerda −, promulgou o Decreto-Lei de Segurança Nacional. A consequência que mais interessa aqui foi aproximar a violência política da violência comum, fazendo o controle do crime violento sair das últimas páginas dos jornais e se estabelecer como um problema central da agenda pública. É verdade que, ao longo da redemocratização, a repressão à violência criminal deixou de ser formulada como uma questão de defesa do Estado, cuja crítica se fazia na linguagem dos direitos humanos, para ser apresentada como um problema de defesa da sociedade, focalizando as ameaças à integridade física e patrimonial contidas no desenrolar da vida cotidiana. Entretanto, de lá para cá nunca mais o tema da ordem pública deixou de ser tratado, pelas agências estatais e pela população em geral, segundo um viés repressivo.
Esse foi o resultado mais amplo da aplicação daquela lei que, ao forçar a convivência entre presos políticos e comuns, abriu para estes últimos a possibilidade de legitimar suas atividades, mimetizando uma ideologia revolucionária que eles não possuíam. O crime violento comum deixou de ser entendido e praticado como um punhado de atividades desviantes, meramente intersticiais e sem muitas relações umas com as outras, e adquiriu certa autonomia e uma visibilidade que nunca havia tido. Data dessa época a formação da Falange Vermelha, espécie de avó das facções atuais. Pode-se dizer, portanto, que o que se conhece hoje como o coração do “mundo do crime” foi uma decorrência, provavelmente não intencional, das políticas institucionais de controle social produzidas durante a ditadura militar.
Mas a sobrepolitização e a polarização definitiva da compreensão da violência criminal como ameaça à continuidade das rotinas cotidianas, endurecendo o debate sobre a ordem pública, só vieram a ocorrer bem mais tarde, ao final do processo de redemocratização. Sua raiz está na reação de uma parte da população carioca à decisão de Leonel Brizola de proibir as grandes “operações” policiais nas favelas, cumprindo promessa de campanha para sua primeira eleição ao governo do estado (1983-1986). A medida, que visava coibir o arbítrio e a violência policial que atingia os moradores daquelas localidades, foi entendida pelos antibrizolistas como uma defesa da criminalidade, já àquela época associada ao tráfico de drogas que então vinha se expandindo. Brizola ganhou a eleição, mas pode-se dizer que os antibrizolistas estabeleceram o quadro de referência básico das políticas atuais de manutenção da ordem pública no Rio de Janeiro.
II
É claro que as atividades de comércio de drogas ilícitas para consumo final, que tendem a ser realizadas em sua maioria em pontos fixos – as chamadas bocas −, demandam a defesa armada dos respectivos territórios, pois os varejistas não podem se esconder dos compradores nem contar com a proteção regular (sublinhe-se o termo, para não esquecer o espaço aberto pela corrupção policial) das instituições estatais. Produziu-se assim uma dobradinha complexa e altamente rentável entre o comércio de drogas ilícitas e o comércio de armas, fornecendo a base material para a reprodução dos bandos de traficantes. De certa maneira, um dos subprodutos dessa combinação foi levar a tradicional e corriqueira “delinquência juvenil” a mudar de patamar, menos pelo desenvolvimento histórico interno de uma subcultura de adolescentes que desafiam os valores estabelecidos e mais por injunções político-econômicas.
Essa mudança está associada a um debate público que passou a destacar e enfatizar a dimensão repressiva da organização da vida social e, ademais, a reduzir o entendimento dessa dimensão às disputas pelo domínio do território da cidade. Nesse quadro, entra em funcionamento a “metáfora (será apenas metáfora?) da guerra”, que mobiliza e reforça o imaginário fragmentado da representação do Rio de Janeiro, o qual, em certa medida, expressa a desigualdade da presença das instituições estatais nos diferentes bairros e regiões. Ressalte-se que é absurda, apesar de muito difundida, a ideia de “ausência do Estado” nas áreas de moradia das camadas populares: não há qualquer questionamento ou ameaça à soberania do Estado brasileiro em qualquer lugar. Aquela ideia só passa a fazer sentido quando traduzida para uma afirmação sobre as variações nas modalidades de presença das instituições estatais nessas áreas quando comparadas a outras regiões da cidade. Aí estaria a ironia, se não fosse uma tragédia: é a própria desigualdade na atuação do Estado que produz a ideia de sua ausência.
III
Pode-se dizer que as transformações no debate público acompanham, enquadram e orientam as mudanças na organização institucional da vida social. A discussão coletiva nunca é apenas sobreas ações de pessoas e grupos, ela constituiessas ações na medida em que lhes confere sentido. Há décadas grande parte da atenção coletiva, das disputas que ela engendra e das práticas institucionais associadas a essas disputas vem se reduzindo à repressão à violência criminal embutida na esfera cotidiana. Lembremo-nos de que isso não tem nada de natural ou obrigatório. O Brasil é testemunha de conjunturas que enfatizaram o outro lado da coerção na produção da ordem social, ou seja, houve momentos na história de nosso país que privilegiaram processos de negociação, convencimento e aceitação voluntária de valores e normas que regulam conduta. Mas isso é incompatível com a “metáfora da guerra” que define a lógica das discussões atuais, mesmo que ela venha se transformando, como é o caso, em “pacificação”, que obviamente depende do resultado e é um sucedâneo da guerra. Ainda que essa modificação esteja longe de ser desprezível, na melhor das hipóteses, “pacificação” é a etapa final da guerra.
Em resumo, a maneira de produzir a regulação social e garantir a ordem pública na atualidade, com foco no controle da “violência urbana” e não em uma relação em que os vários segmentos sociais reconhecem seus interesses e os negociam segundo regras compartilhadas, cria um enclave de significado na compreensão coletiva das relações sociais. Os diferentes são vistos como inimigos, o diálogo entre os segmentos sociais se esgarça e o policiamento cotidiano não se realiza mais como uma etapa indispensável, mas de importância secundária, relativa à ponta final do estabelecimento da ordem social. A atividade policial assume um protagonismo (para o bem e para o mal, como veremos) que pode ser qualificado como descabido em uma democracia.
Por sua vez, é nesse quadro que se (re)organizam também as práticas criminais, pois, transformados em inimigos, os criminosos adquirem certa autonomia e espaço para se organizar. Não nos iludamos: nas últimas décadas, o “crime” tornou-se uma referência amplamente compartilhada pelas pessoas comuns, pelos próprios criminosos e pelos programas de intervenção dos órgãos públicos e privados, referência negativa ou positiva que articula a representação da “violência urbana”, essa representação genérica do perigo a rondar as rotinas diárias. Tal compreensão funciona como um sumidouro de grande parte das políticas sociais, as quais deixam de ser aplicadas na tradicional linguagem dos direitos e passam a ser justificadas como recursos de controle cotidiano do crime, subsidiárias à repressão policial direta e indissociáveis desta. Há tempos não há um programa de intervenção social, em qualquer nível, público ou privado, que não esteja focado em alguma área de moradia popular e não se apresente como recurso de combate ao crime. No Rio de Janeiro de hoje, o mais evidente exemplo, apesar das dificuldades de sua introdução efetiva, é a extensão “social” do programa das UPPs “militares”, a qual, mesmo não estando a cargo da polícia, é pensada como um reforço necessário de combate ao crime.
IV
Tudo isso tem sido desastroso para as camadas populares. Os processos de territorialização do controle social descritos, que reduzem as atividades de manutenção da ordem a uma questão de garantia da continuidade das rotinas cotidianas, as afastam do debate público e silenciam suas lideranças. As manifestações dos grupos subalternos são desqualificadas, como se fossem emanações dos interesses do “crime”. Perde-se de vista a distinção entre o domínio territorial que faz parte das atividades direta ou indiretamente ligadas ao crime violento e o restante dos moradores das localidades onde ele está instalado.
Nas favelas, os residentes estão encurralados entre o arbítrio dos traficantes, as incursões policiais e a profunda desconfiança da população da cidade que não mora nessas áreas. Onde as UPPs estão, os confrontos diminuíram significativamente – mas a submissão dos moradores comuns aos traficantes foi substituída pela submissão aos policiais, que também são agressivos e arbitrários. De modo geral, os moradores comuns preferem as UPPs, que de fato diminuíram as mortes, mas acham que estão trocando seis por meia dúzia quanto ao desrespeito com que são tratados. E permanece o medo do retorno ao domínio dos traficantes.
Nas periferias, o papel das instituições estatais na produção de uma ordem pública que articula o território da cidade e as relações cotidianas entre a repressão policial e o domínio do crime é ainda mais complicado. Nelas, quase sempre constituídas por loteamentos clandestinos ou irregulares, o controle social tem estado a cargo das chamadas “milícias”. Compostas de policiais militares e civis, da ativa ou reformados, bombeiros, informantes etc., elas se organizam como máfias. Sob o argumento de combater o tráfico, os assaltos e roubos etc. – o mesmo argumento do discurso oficial –, assumem o controle das áreas onde atuam, cobrando pela oferta de “proteção” e monopolizando, à força, certas atividades econômicas. Nesses locais, o confronto das milícias com a polícia “regular” é quase inexistente, uma vez que elas são a polícia. Em suma, nas periferias o controle social é exercido pelo “outro lado” do Estado. Nesses espaços da cidade, os atores principais do filme não são os policiais e os bandidos, como nas favelas, mas os bandidos contra os bandidos.
V
A repressão violenta ao crime comum sempre foi uma delegação tácita conferida à polícia por parte dos grupos dominantes. Mas foi durante a ditadura que ela se institucionalizou e entrou no debate público, explodindo como uma questão política candente em meados dos anos 1980. De certo modo, essa nova maneira de tratar as atividades desviantes acabou favorecendo uma profunda reorganização do mundo do crime, que saiu dos interstícios da ordem social e adquiriu vida própria, auxiliada pelas altas taxas de acumulação proporcionadas pela dobradinha tráfico de drogas ilícitas/comércio de armas. No Rio de Janeiro, o “crime” passou a se organizar como uma espécie de nebulosa com vários graus de adesão a um núcleo duro, constituído como um padrão de sociabilidade caracterizado basicamente por relações de força material (não apenas a força física, mas também suas extensões na forma de armas cada vez mais pesadas) na obtenção dos objetivos almejados.
A compreensão coletiva dos conflitos sociais ficou cada vez mais reduzida à esfera cotidiana imediata, e os alvos das atividades de manutenção da ordem pública tornaram-se cada vez mais territorializados: não se trata mais de coibir atividades proibidas, mas de controlar áreas tidas como perigosas – o que, inevitavelmente, afeta em especial os territórios de moradia dos segmentos subalternos. Acrescente-se que o termo controle, neste caso, tem vários sentidos, que só se resolvem contextualmente e a partir de confrontos sempre mais violentos: controle pela polícia “regular”, pelo “crime” ou pela “milícia”.
Tudo isso cria uma situação paradoxal. O crescimento econômico, apesar das oscilações, vem beneficiando as camadas populares, sobretudo nas últimas décadas. Mas, ao mesmo tempo, elas são castigadas por um intenso processo de segregação socioterritorial que provoca um silenciamento político nefasto para a democracia brasileira.
- ↑ Luiz Antonio Machado da Silva é Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj e membro do Coletivo de Estudos sobre Sociabilidade e Violência (Cevis/Uerj). E-mail: lmachado@iesp.uerj.br