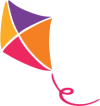Auto de resistência: a omissão que mata
Texto reproduzido, sob autorização da autora, do livro "Auto de resistência: a omissão que mata", de Gizele Martins, publicado pela A.M.Designer, em 2019, no Rio de Janeiro.
Autora: Gizele Martins
Apresentação[editar | editar código-fonte]
Entre janeiro e agosto de 2019, foram registradas mais de mil mortes por intervenção policial no Rio de Janeiro, os chamados auto de resistência, de acordo com Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP). Mesmo registrando uma queda no chamado indicador letalidade violenta (que corresponde ao homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado), as mortes consideradas auto de resistência tiveram um aumento em 18% em relação a maio de 2018, de acordo com os dados oficiais do ISP.
O projeto “Auto de resistência: a omissão que mata” foi iniciado em 2018 pela jornalista Gizele Martins e apoio da jornalista Jéssica Santos e consistiu em uma série de reportagens sobre os auto de resistência no Rio e o aumento da violência policial. O projeto foi realizado com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Esta publicação é um recorte das matérias e entrevistas publicadas digitalmente ao longo do período de investigação e ações do projeto.
Desde que ele foi iniciado, muito ocorreu no contexto da segurança pública no Rio de Janeiro. Em 16 de fevereiro de 2018, o então presidente Michel Temer decretou uma intervenção na área de segurança pública no estado. Um general do Exército foi designado como interventor e passou a ter comando direto sobre as polícias estaduais, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Administração Penitenciária até o final do ano. No mês seguinte, em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no bairro Estácio, região central da cidade do Rio. Eles voltaram de uma atividade quando um carro efetuou vários disparos. Marielle atuava como defensora de direitos humanos há mais de dez anos lutando pelos direitos da população que vive na periferia sofrendo diariamente com a ausência do Estado e o excesso de violência policial. Sabe-se que a política de extermínio praticada pelos governantes é uma prática já estabelecida. Nos últimos 10 anos, as periferias sofreram com o aumento do poder bélico dentro das favelas, sofreram com a entrada das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e, também, com a entrada do exército em algumas destas favelas. Governantes da época também afirmavam que o público favelado era o público inimigo e que deveria ser combatido. Nos últimos 10 anos, 16 mil pessoas morreram vítimas das ações policiais em favelas e periferias do Rio. Na Baixada Fluminense, segundo levantamento realizado pelo Fórum Grita Baixada e Centro dos Direitos Humanos, pelo projeto de Litigância Estratégica, a partir de dados da polícia civil entre 2010 à 2015 tivemos 2046 autos de resistência na Baixada Fluminense, sendo o 15º BPM — Duque de Caxias o mais envolvido.
Os novos governantes, também demonstram que as práticas militares serão cada vez mais presentes nos bairros empobrecidos do Rio. “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo!”, afirmou o governador eleito no Rio de Janeiro. Wilson Witzel que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos (2019 a 2022). Esta declaração do novo governador mostra o quanto o Rio de Janeiro vem aumentando a sua prática genocida dentro das favelas e periferias. Esta é a população considerada a inimiga da cidade, do Estado, é a “cabecinha” do jovem negro e morador de favela e periferia que este governador quer “abater”.
Com isto, se pergunta a quem recorrer diante do aumento no número de casos de auto de resistência, de chacinas e de operações que ocorrem hoje com helicópteros blindados, tanques de guerra e caveirões. A quem recorrer quando se tem o próprio Estado legitimando a ordem para matar, quando se tem um judiciário conivente com as práticas do Estado quando não leva casos como estes a julgamento, legitimando a impunidade.
Publicação[editar | editar código-fonte]
Nesta publicação você encontrará parte da primeira reportagem publicada em 2018 chamada “Ditadura na Democracia”, que apresenta um panorama do contexto da segurança pública do Rio de Janeiro com a intervenção militar e aborda como os auto de resistência, já nesse período, demonstravam aumento em detrimento das investigações, que só diminuem.
Em seguida, abordaremos a luta das famílias por justiça, em especial das mães na matéria “Auto de resistência e impunidade”. Pessoas que transformam um grande trauma em força para a luta contra a violência do Estado. Quando se trata de auto de resi s tência, o registro do ocorrido é feito pelos policiais e as testemunhas são os próprios policiais que estavam na ação. Pouquíssimos são os casos que chegam a ser investigados, são denunciados e vão a julgamento. Já a terceira reportagem intitulada “Casos de ‘auto de resistência’ com crianças e adolescentes no Rio: violência e injustiça contra quem não tem chance de crescer” relata casos em que a infância é interrompida pela violência policial e registrados como auto de resistência.
Como parte do projeto, foi realizada uma exibição seguida de debate do filme "Auto de Resistência", dirigido por Natasha Neri e Lula Carvalho, em São Gonçalo. O filme mostra a trajetória de pessoas que perderam familiares em operações policiais, como se dá o tratamento do Estado a esses casos, passando pela investigação ao julgamento. A proposta do encontro, assim como desta publicação, é ampliar o debate sobre o tema e promover reflexões sobre o atual contexto de aumento da violência policial e estratégias de luta e enfrentamento a esse quadro.
1ª reportagem: Ditadura na Democracia[editar | editar código-fonte]
“Ouvi o tiro da minha casa, mas não imaginava que seria o tiro que mataria meu filho. Ele tinha 21 anos, levou um tiro pelas costas e a polícia teve a coragem de colocar o caso como auto de resistência. Foi a primeira vez que senti o racismo na minha pele”.
A fala é de uma mulher de 47 anos, moradora de uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro, que teve o filho assassinado pela Polícia Militar. Depoimentos como este são constantes nas favelas e periferias da cidade. É comum o trânsito dos tanques de guerra, as revistas vexatórias e ilegais, a presença de soldados armados, o uso massivo de helicópteros aéreos nas operações dentro das favelas, o aumento no número de desaparecimento forçado, chacinas e o consequente aumento do número dos chamados auto de resistência — mortes decorrentes da ação policial. Todas estas ações usam como justificativa um suposto enfrentamento da violência e se utilizam de dispositivos legais de exceção como a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), operação prevista na Constituição Federal realizada exclusivamente por ordem do presidente da República, da qual autoriza o uso das forças armadas.
Nesses primeiros meses de intervenção, iniciada 16 de fevereiro de 2018, dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontaram um aumento de homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial. Foram registrados nos seis primeiros meses de 2018 um total de 766 casos, maior número registrado desde 2003. Nos primeiros cinco meses de Intervenção, foram registrados pelo aplicativo Fogo Cruzado, 4005 tiroteios ou disparos de arma de fogo na Região Metropolitana
do Rio. Foram 2924 nos cinco meses anteriores. De janeiro a julho de 2018, se investiu mais na chamada segurança pública, do que em saúde, educação, cidadania e outros direitos. “Materializa-se isso quando a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro diz que, nos últimos 10 anos, o orçamento da segurança pública do Rio, sob intervenção federal militar, cresceu 136%. Os volumes de recursos saltaram de R$ 5,2 bilhões de reais em 2008, para R$ 12, 211 bilhões em 2017”, destaca Fransérgio Goulart, pesquisador do Fórum Grita Baixada, movimento localizado na Baixada Fluminense.
Quem investiga o Exército e as Polícias?[editar | editar código-fonte]
Foram realizadas mais de dez visitas, nas quais depoimentos de moradores foram colhidos e dão conta de aumento de invasões dentro das casas, roubos de dinheiro e de objetos, pessoas desaparecidas, chacinas, revistas vexatórias, principalmente de jovens negros, além do número de casos que aparecem como auto de resistência. Em apenas uma favela da Zona Oeste do Rio, em uma semana de operação com uso de blindados terrestres, aéreos e policiais militares e civis, além de tanques de guerra, 22 pessoas foram assassinadas, sendo que apenas seis corpos apareceram, todos registrados como casos de auto de resistência. Os demais se encontram desaparecidos. A situação se repete em outras favelas e periferias.
Neste cenário, o relançamento da Campanha Caveirão Não também trabalhou para dar visibilidade e pressionar o judiciário nas investigações dos casos. Segundo dados veiculados pelos integrantes da campanha, o número de homicídios decorrentes de intervenção policial no estado do Rio teve um aumento de 96,7% no mês de março de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016, passando de 61 para 120 vítimas. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, foram mais de 813 mortos pelas polícias do Estado de janeiro a setembro de 2018, em homicídios em que a polícia alega ter agido em suposta legítima defesa. Outro dado que chama atenção é que a Baixada Fluminense concentra 46% dos homicídios de todo o estado. “Mais de 90% dos autos de resistências, quando conseguimos levar a julgamento, são arquivados por esse judiciário, mesmo com provas periciais comprovando tiros pelas costas. A vítima passa a ser acusada a partir de uma pergunta racista que boa parte dos juízes e juízas fazem nos julgamentos às mães e familiares vítimas do Estado: se o fi lho tinha algum tipo de convivência com o tráfi co. Com essa indagação fazem com que a vítima passe a ser vista como o violador. O julgamento era da violação da polícia, e não se aquele menino tinha ou não relação com o tráfico, até porque, todos nós que moramos em favelas convivemos com o tráfico”, explica Fransérgio.
O ativista e pesquisador conta que a Campanha organizou atos em frente ao Ministério Público para denunciar isso e outras ações racistas do judiciário. Com esses atos e a partir do protagonismo das mães e familiares da violência do Estado, houve uma abertura com o Ministério Público — por meio do Grupo de Atuação Especial da Execução Penal e da assessoria de Direitos Humanos do MP — que resultou no desarquivamento de alguns processos que estavam parados. “Precisamos entender que há um sistema de segurança racista, onde como as mães e familiares dizem: A polícia é a ponta e aperta o gatilho e o judiciário racista absolve esse executor”, conclui.
Auto de resistência: os casos aumentam, as investigações diminuem[editar | editar código-fonte]
Historicamente, as favelas e periferias do Rio de Janeiro enfrentam violações cometidas pelos órgãos do Estado, principalmente no que se refere ao tema da segurança pública. Neste espaço empobrecido, tendo em sua maioria uma população negra, a ordem para matar é legitimada pelos próprios governantes a partir de um falso discurso de guerra às drogas.
Um exemplo de como funciona a criminalização da pobreza e o racismo para o espaço favelado é quando, nos anos de 1990, os policiais passaram a receber a chamada “gratificação faroeste”. Foi então que ganhou destaque o dispositivo legal conhecido como “auto de resistência”. Presente desde a época da ditadura militar, tal classificação administrativa passou progressivamente a ser empregada para designar as mortes resultantes das ações policiais e, durante o governo Marcelo Alencar, seu uso chegou a ser estimulado por uma remuneração concedida a policiais militares intitulada “premiação por bravura” ou “gratificação faroeste”. O “auto de resistência” foi criado em 1969, após o AI-5 (dezembro de 1968), como medida interna da própria polícia, a fim de justificar e minimizar a prisão em flagrante de policiais autores de homicídio. Imediatamente, passou a ser usada pela imprensa naturalizando as versões dos militares e da polícia para os “teatrinhos” (como os próprios diziam à época) com que justificavam os assassinatos de presos políticos na tortura: às vezes, também explicados como “excessos” de tratamento ou “suicídio”, como explica João Costa, do Grupo Tortura Nunca Mais.
Para Patrícia Oliveira, integrante do Mecanismo de Combate à Tortura do Rio de Janeiro,esse instrumento levou à criação de grupos de extermínio e ao aumento vertiginoso do número de chacinas. “Naquela época, os policiais que mais matavam ganhavam mais. Recebiam um bônus que ficou conhecido como a “'gratificação faroeste'”, o que fez aumentar muito o número de pessoas assassinadas. Surgiram vários casos de crianças e adolescentes assassinados. Eram constantes as operações em favelas. Surgiram vários grupos de extermínios. Os ‘Cavalos Corredores’[1], por exemplo, era um deles. É daí que surgem as várias chacinas no Rio de Janeiro. A polícia mostrou a sua cara naquele momento”, conta. Em 2008, foram implementadas, em algumas favelas do Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) que estiveram por 10 anos em 38 favelas. Estudiosos sobre o tema afirmam que nos primeiros anos de UPP houve uma diminuição nos casos de auto de resistência dentro destas favelas, mas que aumentou o número de desaparecimentos, segundo dados do relatório Auto de resistência: uma análise dos homicídios cometidos por policiais na cidade do rio de janeiro (2001–2011), coordenado pelo Prof. Michel Misse, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paralelo à implantação das UPPs, a partir de 2009, a Secretaria de Segurança Pública criou um programa de metas para a redução de alguns indicadores da violência, incluindo homicídios dolosos.
A partir do começo de 2011, este programa passou a contar com metas para a redução da letalidade violenta, passando a incluir não só os homicídios dolosos e latrocínios — contemplados no decreto inicial –, mas também lesões corporais seguidas de morte e auto de resistência. Tal situação demonstra o reconhecimento do governo da existência de excessos no emprego deste dispositivo.
Para a secretaria de segurança pública, assim como para alguns estudiosos da segurança e de organizações sociais, a implementação das UPPs nas favelas e periferias foi uma forma de combate ao tráfico de drogas. Ao contrário, familiares e moradores de favelas afirmam que esta política representou mais uma forma de controle da população negra e pobre. Juliana Farias, pesquisadora sobre o tema e apoiadora do movimento de mães de vítimas da violência policial, afi rma que esta é, sem dúvida, mais uma prática racista dos poderes estatais: “A política de segurança pública é racista; o funcionamento da burocracia estatal também se faz através de uma racionalidade racista. Não é possível falar em diminuição dos auto de resistência enquanto ainda acreditarem que existe um inimigo a ser combatido (lembrando que nessa lógica racista esse inimigo é necessariamente o homem negro morador de favelas e periferias)”, conclui.
2ª reportagem: Sem chance de crescer: "auto de resistência" e a infância perdida[editar | editar código-fonte]
A extrema direita chegou ao poder em 2019 e os primeiros meses já mostraram que este e provavelmente os próximos anos não serão fáceis para quem vive e sobrevive nas favelas e periferias brasileiras. Recordemos: Jair Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais “fazendo arminha” e, no Rio, o atual governador, Wilson Witzel antes mesmo de se eleger já assumia posturas abertamente racistas, pró-militarização e elitistas. Não por acaso, somente entre janeiro e abril, o Rio chegou a ter o maior número de casos de auto de resistência dos últimos 20: foram mais de 400.
As crianças e adolescentes das favelas, assim como outros de qualquer parte das cidades do país, deveriam ter direito à infância: a estudar, brincar na rua, comprar doce, jogar futebol e soltar pipa. Mas, a julgar pela permissão deliberada do uso irresponsável da força nestes territórios ou pela passividade histórica dos governos diante da violência contra estes cidadãos e cidadãs em fase de formação, os governantes de hoje e de ontem devem pensar que crianças e adolescentes negros moradores de periferias podem ser mortos. Como se com eles não morressem também sonhos seus e de suas famílias.
Dados do Dossiê Criança e Adolescente, do Instituto de Segurança Pública (ISP), apontam que em 2017, foram 635 crianças e adolescentes assassinados no estado do Rio. Os números foram calculados a partir do cruzamento de registros da Polícia Civil e de instituições de saúde. O contexto é particularmente duro para os adolescentes: mais de um quarto (28,6%) dessas mortes são homicídios decorrentes de intervenção policial. Entre 2007 e 2017, a taxa de assassinatos nesta faixa etária subiu 68%. Ainda de acordo com o Dossiê, a letalidade violenta (que envolve homicídio doloso, homicídio decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio) atinge principalmente os negros. No Rio de Janeiro, a taxa para “crianças e adolescentes negros é de 45,3 vítimas por 100 mil habitantes negros de 0 a 17 anos, quase nove vezes maior do que a taxa entre as crianças e adolescentes brancos, 5,1 vítimas”, mostra o documento. “Ainda sobre o perfil das vítimas, há a predominância do sexo masculino (…), 95% (167 vítimas) dos homicídios decorrentes de intervenção policial e 89% (403 vítimas) dos homicídios dolosos foram perpetrados contra indivíduos do sexo masculino”, revela o Dossiê.
Um dos casos que ganhou destaque internacional foi o do garoto Maicon, ocorrido há mais de 20 anos no Rio. Maicon tinha dois anos quando foi assassinado pela polícia na favela de Acari, Zona Norte da cidade. Jose Luiz Farias da Silva, pai de Maicon, vem há 23 anos denunciando a morte do filho e buscando respostas para o crime. “O caso ficou como auto de resistência. De lá pra cá, virei militante. No dia 15 de abril completaram 23 anos de um caso absurdo na história não só do Rio de Janeiro, mas do país: uma criança ficou conhecida como marginal aos 2 anos de idade. O Brasil violou meu direito de ter a resposta sobre o caso. Mais ainda, eles violaram o direito à vida do meu filho”[2], disse José Luiz. O mais surpreende é que o caso de
Maicon prescreveu, mostrando incapacidade ou a falta de empenho nas investigações. Natália Damazio, que trabalhou como advogada e pesquisadora da ONG Justiça Global, começou atuar no litígio (prática jurídica para quando não há consenso entre as partes) na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre os anos de 2014 e 2015. “Em relação ao assassinato do Maicon houve uma troca de tiros em Acari. Por isso se aplicou auto de resistência ao menino. Por falta de provas foi arquivado. Uma vez arquivado o caso, só novas provas conseguiriam abrir”, explicou. Agora o caso é acompanhado apenas internacionalmente.
Recado das autoridades é de garantia de impunidade[editar | editar código-fonte]
Assim como a de Maicon diversas outras mortes violentas de crianças e adolescentes acontecem cotidianamente. “São vários casos de crianças, bebês assassinados pela polícia e é muito grave. Como são jovens negros moradores de favelas funciona todo aquele imaginário que parte da sociedade carrega de que são ‘sementinhas do mal’ ou coisa parecida”, afirma Lucas Pedretti, historiador que pesquisa a violência de Estado na ditadura e na democracia.
Para Pedretti é como se não importasse o que a pessoa fez. O fato de ser negro, morar numa favela, já faz com que não só desconfiem, mas digam que é criminoso. “Quando ocorre com uma criança é ainda mais grave. É a ideia de que por ser negro, por morar ali na favela, aquela criança iria se tornar um bandido. Então essa execução, esse assassinato é visto como algo natural por parte expressiva da sociedade, que permite que esse tipo de coisa continue acontecendo. Fato é que ninguém merece tal tratamento”, complementa.
Uma série de questões fazem com que casos como o de Maicon não sejam investigados, entre elas o corporativismo policial e a criminalização da pobreza. Tais fatores transformam homicídios em “efeito colateral” ou “bala perdida”. “Temos um grave problema em relação à perícia. Ela é feita pela Polícia Civil, sem que exista isenção. É preciso que se tenha uma perícia independente. O segundo ponto é quando se coloca como ‘auto de resistência’, na hora da denúncia é analisado que o fato ocorreu. Mas o fato não é punível porque tem-se a ideia de que a pessoa [o policial] não teve culpa do ato. Isto ocorre porque casos como estes acontecem em favelas. Não se investiga de quem parte o disparo, se investiga a vítima”, observa a advogada Natalia Damazio.
O pesquisador Lucas Pedretti lembra que sem julgamento caso a caso, acabam todos sem culpados. Uma verdadeira permissão para matar. “Há uma legitimação das autoridades públicas também por causa da falta de interesse nas investigações. Esse aumento no número de auto de resistência é grave. Infelizmente a gente não pode dizer que surpreende, pois corresponde às expectativas quando se tem um governador que afirma que ‘vão mirar na cabecinha”, critica.
3ª reportagem: Mães lutam para que os casos de seus filhos tenham respostas[editar | editar código-fonte]
Janaína Mattos Alves, de 35 anos, viu seu mundo desmoronar na noite do dia 30 de junho de 2016. Estava em casa quando chegaram à sua porta para dar a notícia que seu filho, Jhonata Dalber, então com 16 anos, havia levado um tiro. “O amigo dele chegou no meu portão desesperado gritando ‘acertaram o Dalber’. Jamais pensei que tivesse sido um tiro que viria a matar o meu filho. Imaginei que fosse na perna, no braço, de raspão, que iria para o hospital, mas sobreviveria”, lembra Janaína. Jhonata tinha saído da sua casa, na Usina (Tijuca) a pedido da mãe para buscar sacos de pipoca na casa de um parente. Quando soube o que aconteceu, Janaína foi até o local onde havia ocorrido a ação, mas seu filho não estava mais lá. “Cheguei na São Miguel (uma das principais ruas da Tijuca) de moto e perguntei para os policiais ‘cadê o meu filho?’ Até então eu não sabia que tinham removido o corpo. Eles riram da minha cara e debocharam de mim”, denuncia.
Já no Hospital do Andaraí, um grupo de familiares e amigos de Jhonata esperavam ansiosos por notícias, que foram as piores possíveis: ele já estava morto. Na imprensa comercial, o caso foi amplamente divulgado e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora publicou uma nota, informando que após um confronto com policiais, um homem foi baleado e socorrido e os demais conseguiram fugir. Janaína conta que após o assassinato, ela não teve acesso a nenhuma informação sobre o ocorrido e a versão dos fatos que ela conhecia, de que ele havia sido baleado em uma troca de tiros, mudou quando o caso foi denunciado e chegou ao Ministério Público (MP). “Eu não sabia nada do caso do meu filho até ele chegar no MP na mão da promotora. Descobri que o policial atirou a queima roupa, por trás. Encostou arma na cabeça do meu filho, que tinha orla de queimadura da arma. Até então a gente pensava que tinha sido um tiro de fuzil, mas aí foi um tiro de pistola de 40 e o laudo cadavérico mostrou isso tudo”.
Vidas interrompidas[editar | editar código-fonte]
Jhonata estava no primeiro ano do Ensino Médio, tinha muitos amigos e uma namorada. Estava animado para começar, no dia 14 do mês seguinte a sua morte, um curso de informática e inglês na Praça Saens Peña. Como muitos jovens da sua idade, planejava ingressar no mercado de trabalho, conquistar independência financeira e auxiliar a família. “Ele estava doido para começar a trabalhar e me ajudar, era um menino muito prestativo, sempre ensinei meus filhos as coisas certas e erradas. Os sonhos dele e os meus foram interrompidos”, lamenta
Janaína.
A dor de perder um filho é irreparável para qualquer mãe. Quando esta morte é derivada da violência estatal, o processo para quem fica é bem mais complexo. Janaína conta que além de lidar com o seu próprio luto, precisa se manter forte para ajudar os três filhos mais novos, respectivamente 6, 9 e 11 anos, a superarem o trauma, além de todo o processo de luta por justiça e da defesa da memória de seu filho. “A dor é dobrada porque é a dor da saudade e a tristeza dos filhos. Tento me manter forte para não mostrar a tristeza”. Olivia Morgado Françozo, psicóloga e psicanalista do Núcleo de Apoio Psicossocial para Afetados pela Violência de Estado, explica que a maior parte das vítimas dos casos de auto de resistência são homens, negros, jovens e quem resistem são as mulheres, que seguem como sobreviventes e buscam uma rede de apoio. Para Olívia, perder alguém da família por um assassinato afeta a todos e muitas vezes surge a culpabilização pessoal. “Elas [as mães] se perguntam aonde foi que erraram, porque não puderam dar conta e que muitos desses sofrimentos são silenciados. Acreditamos muito no trabalho terapêutico grupal, fazer entender que é uma política de Estado e não é um caso isolado, é um processo de desculpabilização”, conta.
De acordo com Olívia, o reconhecimento da responsabilidade do Estado é importante para transferir a culpa da mãe, da família. “No dia a dia da luta, elas conseguem espaços nos jornais com a versão delas, o que é muito importante. Mas antes, nas versões ofi ciais, o que há são as versões racistas, de muita criminalização da pobreza. O racismo institucional e a não responsabilização do Estado são cargas muito pesadas para que elas carreguem” completa.
"Nossos mortos têm voz"[editar | editar código-fonte]
Segundo a psicóloga Olívia o assassinato de um ente vitimado pela violência de Estado tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. “Aqui no Rio tem crescido muito o debate de como saber seguir em frente depois de um trauma, de uma violência que vai marcar suas vidas para sempre. Elas acabam criando suas próprias redes de apoio, já que o Estado não garante atendimento a essas mães e familiares”, comenta.
A Rede de Mães tem sido importante para esse fortalecimento. Para Janaína Alves, o apoio da sua família, a militância e a participação na rede foram fundamentais para reunir forças e continuar após a morte de Jhonata. “Conheci as mães logo após o falecimento do meu filho. Elas fizeram um café da manhã para mim, que intitularam ‘Café das Fortes’. Ali me contaram um pouco da história e das lutas delas apartir da morte dos filhos e mostraram para mim que eu tinha que lutar, que naquele momento eu era a voz do meu filho, que eu não poderia desistir, que se eu não lutasse, o culpado não iria pagar e não haveria justiça”, lembra emocionada.
Agradecimentos[editar | editar código-fonte]
Nós, jornalistas comunitárias, diferentes das mídias comerciais e empresariais, acreditamos que temos um lado sim, que somos parciais, defendemos os direitos humanos, o direito à vida e repudiamos qualquer tipo de violação a ela. Falar sobre o tema ‘auto de resistência’ não foi e não é uma tarefa fácil. Além de lidar com entrevistas, falas, depoimentos, fotos, pesquisas dolorosas e reais, lembramos que cada um destes depoimentos fazem parte da nossa própria realidade favelada, pois é neste chão, neste território, lugar, em que ocorrem as chacinas, os
assassinatos, os abatimentos. É aqui que acontece o genocídio.
No Rio de Janeiro, estamos lidando com a triste estatísticas das mortes. Até agosto deste ano já foram mais de mil pessoas assassinadas em favelas e periferias com o chamado ‘auto de resistência’, é o pior número dos últimos 20 anos. Sabemos que essa política do abate, idolatrada e permitida pelo atual governador, vai fazer com que cada um destes casos não comecem nem mesmo as investigações e, consequentemente, os culpados não serão responsabilizados, assim como ocorre com os outros tristes casos das últimas décadas, o que faz legitimar ainda mais essa triste política racista.
Com certeza, fazer esse trabalho não foi uma tarefa fácil. Foi difícil, bem triste ouvir, escrever, entender, relatar cada um destes casos e, por isso, é fundamental agradecermos aqui nesse espaço à todos e todas que nos apoiaram, que nos deram entrevistas, dicas de pesquisas, livros, números, argumentos, que nos indicaram pessoas para serem entrevistas, que leram nossas reportagens e que divulgaram o nosso material final.
Neste agradecimentos, em, especial, queremos lembrar do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que fez os jornalistas comunitários terem a oportunidade de construírem não só essas matérias, mas de construírem políticas na favela, na periferia, no trabalho, nas audiências públicas, nas organizações de direitos humanos, foram muitos os lugares que estas reportagens circularam. Agradecemos também à Justiça Global por todo o apoio e orientação em relação aos relatórios e questões financeiras. E, fato é que, agradecemos a confiança do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs) que revisou, publicou e divulgou amplamente cada uma das nossas reportagens e do RioOnWatch também pela confiança para publicação das reportagens.
Nossas escritas são comunitárias, assim como é o real sentido da comunicação comunitária, assim como é a vida na favela e, por isso, ficamos tão felizes com o resultado e com esta construção conjunta com essas organizações que nos apoiaram! Obrigada!
Reportagens e pesquisas sobre o tema[editar | editar código-fonte]
https://medium.com/@pacsinstituto/ditadura-na-democracia-9662afc05a58
https://medium.com/@pacsinstituto/auto-de-resist%C3%AAncia-e-impunidade-aee4daa88a26
http://sintifrj.org.br/sintifrj/2019/04/04/os-frutos-da-ditadura-militar-no-brasil/
http://memoriasdaditadura.org.br/periferias-e-favelas/
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=29775
- ↑ O Cavalos Corredores, a que se refere Patrícia, foi um grupo de extermínio formado por policiais militares do 9° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles foram responsáveis pela Chacina de Vigário Geral, em 1993, que vitimou 21 pessoas.
- ↑ Maicon assassinado com apenas 2 anos de idade pela polícia entre uma troca de tiros no bairro de Acari há 23 anos.